Um novo espaço de análise, reflexão e pluralidade no
debate público sobre o sistema de justiça criminal





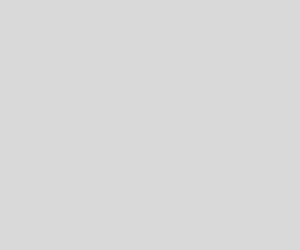
Professor titular de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, especialista em Filosofia do Direito (PUCPR), mestre (UFPR), doutor (Universidade de Roma “La Sapienza”), chefe do Departamento de Direito Penal e Processual Penal da Faculdade de Direito da UFPR e representante da Área do Direito junto a Capes
A questão da delação premiada é típica de momentos de crise. Não se trata de uma estrutura gratuita, mas de algo que vem como efeito de uma causa, sobre a qual é preciso indagar. A causa da delação premiada no Brasil de hoje é banal e remete ao processo e ao Judiciário como um todo. Isso parece evidente num país que se enveredou pelo neoliberalismo, “minimalizou” o Estado e não disponibiliza condições efetivas de atuação aos seus órgãos.
Assim, ela (a crise) parece sintomática da falta de estrutura condizente, capaz de proporcionar uma correta investigação, ou seja, aquela desenvolvida dentro dos padrões normais, isto é, aqueles fixados a partir dos princípios que instauraram a modernidade e estão agora estampados na Constituição da República.

Diante disso, quem pode se protege. Não precisa entender muito de sociologia criminal para saber como funciona. As pessoas se protegem em blocos, formando guetos de proteção ao ponto de alguns deles não aturarem, por exemplo, mandados judiciais, de forma que um oficial de Justiça não entra sequer na portaria dos melhores e mais protegidos edifícios, justo aqueles em que moramos nós, os incluídos, os mais favorecidos. Acontece que o País não somos nós, mas todos nós e quem não pode pagar por uma segurança privada não pode ser prejudicado. Nem todos, porém, na realidade, podem se proteger, razão por que a violência contra o cidadão continua em ritmo alarmante. São efeitos, como parece elementar, da mesma causa. Resta saber, assim, o que se pode fazer; que providência se pode tomar; que caminho se pode seguir sem, contudo, vilipendiar a Constituição Federal.
Tome-se um exemplo italiano: o artigo 348 bis do CPPI de 30 veio com a Legge 8 agosto 1977, nº 534 (sobre os Provvedimenti Urgenti), mas ganhou aplicação integral após a morte de Aldo Moro, em 1978. O dito bis tratava do Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi. Os italianos, como se sabe, não queriam abrir mão da estrutura democrática deforma alguma (na época havia uma luta pela plena constitucionalização do processo penal), mas chegaram a um pontoem que não teve solução. Era necessário ver se o desencadeamento de uma modificação daquelas — que acabou reunindo esquerda e direita — solucionaria o problema e chegaram à conclusão de que o arranhão menor que se poderia ter no sistema era criar um bis para o art. 348 e, no interrogatório livre, abrir a possibilidade de arranjarem quem se arrependesse e fosse delatar os outros. Sabe-se, por ser um dado histórico, sobre os resultados: com maciços investimentos, conseguiu-se um resultado alentador contra a chamada “criminalidade romântica”, isto é, aquela de índole terrorista. Foi assim que se debelou as conhecidas Brigate Rosse. Em relação à Máfia, contudo, não só não se conseguiu um resultado satisfatório (sabe-se que nunca ela foi tão forte como agora, mesmo porque tais atividades a levaram para mais próximo da política e dos políticos), como levou ao sacrifício das vidas de dezenas de parentes — totalmente inocentes — dos chamados petiti. Há, em definitivo, em qualquer hipótese, um preço a pagar; e nele se deve pensar, com seriedade.
O Brasil, metido numa estrutura neoliberal, com um Estado “minimalizado” e uma Polícia sem condições de atuar, em vez de trabalhar suas dificuldades de investigação, tenta resolver o problema criando dificuldades para quem ainda —pelo menos por isso — não as tem. É aqui que se coloca a questão da investigação preliminar pelo Ministério Público (e seria o mesmo em relação à Magistratura) e, de plano, pode-se concluir em duas direções: primeira, que há flagrante inconstitucionalidade, diante das disposições expressas e, diga-se de passagem, nunca discutidas (jamais se cogitou tal hipótese e todo mundo sabe disso, inclusive por conta do acordo que se fez durante a Constituinte), dado não se colocar em dúvida o princípio da legalidade como regente dos atos administrativos; segunda, que o Estado, na situação em que se encontra, não vai fornecer os meios adequados ao Ministério Público para desenvolver seu mister, principalmente se mantida a estrutura do CPP e, assim, tende-se a produzir vítimas. As consequências, então — e não poderia ser diferente —, são os desvios produzidos nas regras constitucionais (com chamamento indevido de atribuições e de competência; com quebra do princípio do juiz natural e assim por diante), alguns órgãos atuando com evidente infração à Constituição, mais a agravante de que tem havido guarida pelos órgãos jurisdicionais superiores, que se não dão conta do alto preço que se está a pagar, com resultados concretos pífios.
O importante, porém, ao se pensar nisso, é perguntar se é, efetivamente, conveniente se admitir a delação premida. Enquanto obtenção de meios de prova, ela é uma modalidade que pode ter uma estrutura eficiente, para usar a linguagem neoliberal. Admitida a complexidade da vida — aliás, se há um conceito luhmanniano que vale é este —, atribui-se a ela um outro patamar valorativo e, desde esse lugar, toca-se a criminalidade. Portanto, é preciso pensar, de fato, em instrumentos que possam levar à eficácia da investigação dos crimes, mas dentro dos padrões que se colocam, ou seja, dentro dos padrões constitucionais, os quais não devem ser manipulados retoricamente, como se tem feito.
O primeiro ponto, então, a se refletir— como matéria impostergável — diz respeito à fenda que se produziu na estrutura montada à Modernidade. Isto parece algo inarredável. Ora, é preciso ter presente que antes mesmo do contrato social — não esquecer que, na teoria, os indivíduos cedem para criar uma sociedade civil e, depois, um Estado, a fim de ser por ele protegidos já que no Estado de Natureza homo hominis lupus — há um pacto (de confiança). Pensando-se por Rousseau, por exemplo, a estrutura contratual — que é a regra básica e fundamental não só da estruturação do Estado, mas também daquilo que estabelece o padrão pelo qual todos se igualam, ou seja, a legalidade — foi movida pelo medo(que, em Hobbes, é da morte violenta).Assim, é vital perceber que mesmo antes dessa estrutura mítica (contratual), em Hobbes há um pacto, que se dá porque há uma crença nos princípios, que são cardeais para as estruturas democráticas. Dentre eles, é estrutural o princípio da confiança, que funda a base do princípio democrático e, por consequência, do princípio republicano.
É o princípio da confiança, como se sabe, que faz os cidadãos irem desarmados às ruas; as mulheres se produzirem e saírem sós sem sentirem medo de serem violentadas; os motoristas passarem com aparente segurança no sinal verde, e assim por diante. Veja-se, então, como a vida é gerida pela confiança, que está na estrutura das relações, inclusive aquelas onde o vínculo é fundado no amor. Todos, assim, são exemplos que remetem à crença. Sociedades democráticas, deste modo, estruturam-se apenas porque há confiança, na qual se investe.
Intui-se, todavia, que diante da complexidade que se criou à vida é preciso ceder; do contrário, restam dúvidas deque, em um Estado mínimo, haja condições para combater a criminalidade, mormente a mais intelectualizada. Até que ponto, porém, é possível suportar a quebra da confiança? Tal questão remete ao papel fundamental que Judas, traidor de Jesus, teve no imaginário coletivo. Ele, ao que se tem conhecimento, não delatou um bandido, mas o gênio que passou avida dizendo às pessoas que deviam se amar; que o amor era o fundamento epistêmico. Mesmo assim eles o meteram na cruz pela delação (por trinta moedas) do traidor. Compromete-se, nesse caso e como parece evidente, o lugar — mítico também — da segurança.
O essencial, então, é ter presente até onde se pode ceder; se é que se pode.
A resposta — para se estabelecer, pelo menos, uma base argumentativa —deve passar por dois questionamentos. O primeiro é saber se a delação premiada cabe na estrutura constitucional de hoje e, o segundo, se se tem mesmo condição de avançar através deste instituto, na forma como ele vem proposto, diante do quadro atual.
Há pouquíssima dúvida — embora ainda reste dúvida porque há condescendência com a hipótese de se procurar meios efetivos de avanço — de que o instituto é inconstitucional, como se coloca hoje; e prejudicial à estrutura democrática da sociedade.
Mas é preciso perceber — ao contrário do pensamento que impera, no Brasil, a partir de São Paulo e que leva a marca registrada dos Elementos de Direito Processual Penal do professor José Frederico Marques — que o sistema processual penal brasileiro não é acusatório. Não é ocaso de se discutir, aqui, sobre sistema, princípio e seus conceitos, que é como se deve tratar o tema. São pertinentes, porém, algumas referências. Frederico Marques foi, de fato, um grande democrata e, quem sabe, o maior processualista penal que o País teve na sua história, porque leva o grande mérito de ter dado cientificidade ao Direito Processual Penal. Ele, contudo, utilizou, nesta matéria, a pior das fontes, que era Vincenzo Manzini, advogado de Mussolini e que manipulou o discurso sobre a estrutura sistêmica do processo penal italiano para criar — naquilo que tinha vindo do Código de Napoleão de 1808 e que entrou em vigor em 1º.01.1811 — um híbrido (inquisitório-acusatório), no qual a marca da acusatoriedade era um nada, tudo com o objetivo de dar um verniz de democracia ao processo mussoliniano do Codice Rocco. Em suma, eles superaram o Codice Zanardelli, de 1913 e, portanto, mudaram de código rapidamente, porque tinham interesse em ter uma estrutura compatível com o fascismo; e assim foi. A democracia processual é, mesmo, só um verniz retórico, o que pode ser testemunhado por judeus, como Primo Levi, e políticos de esquerda como Gramsci. O nosso código, por sua vez, é cópia justamente daquela estrutura do Codice Rocco e, pronto, tornou-se o processo penal brasileiro herdeiro do equívoco veiculado por ele.
O tal equívoco estava, principalmente, no fato de que Manzini, manipulando o discurso, sustentou ser o processo acusatório porque tem partes. Todos sabem, porém, que isso é uma fraude. Por sinal, o maior monumento inquisitorial laico da história da humanidade foram as Ordonnance Criminelle de 1670, de Luiz XIV, que terminava com um grande jugement, diante do tribunal (aberto, público, oral, etc.), com MP e defesa. Ninguém duvida, por todos e por Franco Cordero especialmente, que o núcleo do sistema está no princípio que o rege. Pois foi o princípio inquisitivo que regeu a estrutura do sistema do Codice Rocco, das Ordonnance Criminelle de 1670 e também rege o CPP brasileiro, tanto na primeira fase da persecução penal quanto na segunda, dita processual. Tanto é isso verdadeiro que a gestão da prova é feita pelo juiz; e quem duvidar da extensão disso que se detenha um pouco na correta leitura do art. 156, do CPP, ou frequente as salas de audiências como, uma vez, reclamou Carnelutti cobrando um olhar para a realidade do processo penal.
Ora, se o processo é um conjunto de atos que se encadeiam tendo em vista um determinado fim; e se ele está inserido em uma lógica que se pretende sistemática, sua finalidade é, evidentemente, a de acertar um caso penal. Como se sabe, há de se ser inimigo mortal do pensamento segundo o qual o processo penal depende de conflito, seja ele qual for. Muitas vezes, por sinal, não há conflito algum como, por exemplo, quando o Ministério Público pede, no processo, absolvição, mas o juiz condena o réu mesmo que este concorde com aquele (nos termos do art. 385, do CPP), o que significa que há convergência em vez de conflito (de interesses, de pretensões, de opiniões, ou o que sequeira), como já havia mostrado Francesco Invrea, infelizmente pouco estudado por aqui até hoje.
Assim, como a finalidade do processo penal é acertar um caso penal, é necessário, para tanto, buscar elementos de conhecimento: eis a cognitio, que deve ser determinante no desfecho dele. É por conta disso que a base fundamental (sistêmica) do processo vai marcada por aquele que é encarregado de fazer a cognitio, naquilo que responde pela busca de elementos para conhecer. Quem duvida, assim, que no processo penal é o juiz quem faz a gestão da prova?
A delação premiada é um exemplo clássico disso: leva-se ao juiz o termo e ele, se entender, altera-o, dispondo sobreo seu conteúdo, como se MP e réu não tivessem importância ou fossem tão-só os estafetas do acordo. Isso quando o juiz não despreza os próprios órgãos do MP para dizer o que interessa — prática em que o País se tem tornado expert, infelizmente—, algo que aponta na direção de atos (processuais?) eminentemente impulsionados e conduzidos pelo juiz, o que faz pensar. Afinal, pode não haver acusação efetiva alguma, mas haveria de ter processo, como se pode medir pelo resultado alcançado. Por aí, porém, demonstra-se o “lugar” ocupado pelo juiz, de regência, dentro do sistema(ele comanda a gestão da prova, determinante ao acertamento do caso penal), o que evidencia uma estrutura eminentemente inquisitória.
O sistema, assim, é tomado como misto apenas enquanto discurso porque não há, por definição, um sistema com tal natureza, de modo que o dizer misto, aqui, é o reconhecer como um sistema de fato inquisitório que foi recheado com elementos da estrutura do sistema acusatório (por ex: exigência de processo devido, de contraditório, de parte, etc.), o que lhe não retira o cariz inquisitório, dado a gestão da prova continuar nas mãos do juiz, tanto que é preciso que ele decida sobre o pactuado e, por um lado, homologue o acordo. Pode, contudo, discordar e não homologar; pode (embora seja discutível, mas se faz a todo instante) estabelecer cláusulas.
A inquisitoriedade do sistema processual penal é incompatível com a estrutura constitucional. O Código de Processo Penal, como parece óbvio, não foi recepcionado, em grande parte, pela Constituição da República e os juízes (no controle difuso) e, por todos, o STF, já deviam ter dado um passo adiante na questão mas, por interesse de um Estado “minimalizado” que quer punir e manter a estrutura como está, não o fizeram. Por conta disso é que o Estado não avança para o sistema acusatório (ou de núcleo acusatório, isto é, regido pelo princípio dispositivo) de que tanto se precisa, em que um plea bargain e um MP forte (que possa e saiba escolher, barganhar e fazer o acordo) são absolutamente necessários.
Para tanto, não basta, por óbvio, reformar o CPP. É preciso cultivar uma mentalidade diferente da atual, o que é imprescindível para se retirar o juiz do centro do processo. Afinal, numa estrutura inquisitória, o grande problema está na lógica deformada que a rege. Cordero a chama de primado das hipóteses sobre os fatos e demonstra que ela gera um quadro mental paranoico, ou seja, que pelo modo de pensar se tem a possibilidade de acreditar nas imagens e quem toma a imagem como real é paranoico, como se sabe da Psicanálise e outros campos.
Pode-se, então, acreditar nas imagens em processo penal porque se tem um sistema em que o juiz, não raro, decide antes e, depois, sai à cata de elementos para provar aquilo que já decidiu. E eles o fazem das mais diversas formas, por exemplo, quando se atravessam nas reperguntas de órgãos do MP e dos advogados, fazendo outras perguntas em cima das deles. Agora acontece menos porque em vários foros estão gravando e transcrevem que foi o juiz quem perguntou. Continua, contudo, havendo casos em que o juiz atravessa perguntas e perante as reclamações, sustentam que podem perguntar quando quiserem. O pior é que podem mesmo: esse é o problema! Afinal, a segunda parte do artigo 156 do CPP não deixa dúvida depois do ponto e vírgula. Oque impede o juiz de se atravessar às perguntas da defesa e da acusação é a CR mas, antes, um princípio ético, que está acimado dispositivo do CPP. Não obstante, épreciso ter regras que garantam, de fato, o cidadão e a estrutura democrática. Para tanto, há que se tirar o juiz da gestão da prova e cultivar uma outra mentalidade, na qual ditados como todo favelado é bandido ou todo fumador é traficante ou todo estuprador é culpado (dentre outros), que seguem expressos em tribunais, não se sustentam. São eles lugares comuns típicos de uma mentalidade com a qual se precisa romper, em favor de uma efetividade democrática que, por óbvio, não comporta o outro extremo ideológico, com mera substituição de posições.
Vive-se em uma estrutura pendular dentro da sociedade que navega, no momento, de uma força de direita punitiva (típica da repressão) para aquilo que Maria Lúcia Karam chamou de esquerda punitiva. Quer dizer, desloca-se o eixo, mas não se muda muito além das reações em geral tidas como politicamente incorretas. Enfim, não se trata de substituir opobres pelos ricos.
Não há problema em punir o rico, o poderoso, o político; pelo contrário, se valer, mesmo, a isonomia constitucional, é o que se espera. Eis por que se não tem muita dúvida de que os corruptos, por exemplo, devem, após regular processo, estar na cadeia. Não se trata, assim, de defender bandido, mas sim exigir regras punitivas claras que valham para todos. O que se não pode, porém, é deslocar o eixo e sedimentar lugares comuns (agora para os ricos), sob o manto do discurso de que se está promovendo justiça. É, entretanto, exatamente o que está acontecendo: está-se deixando de punir o pobre, no mais das vezes, porque é “coitadinho”, levando-se o pêndulo ao outro extremo. A estrutura simbólica não comporta uma postura maniqueísta do gênero, embora até se possa entender pela fragilidade humana.
A isonomia constitucional, como é primário, não permite que se pense assim. Tem-se uma cadeia lotada de pobres, é verdade; e isso é uma vergonha e está errado. Mas em vinte anos ela pode estar lotada de ricos, o que também vai ser vergonhoso e não menos errado. Ora, não se pode fazer a política do “coitadinho” para o pobre; e nem a da “vingança” para o rico. Precisa-se é estruturar as regras do jogo, de modo a servirem para todo mundo. Enfim, não se tem efetivada a estrutura constitucional-democrática porque senão incorporou a mentalidade de que cadeia não foi feita para pobre ou rico mas para culpado, seja rico ou pobre.
Esse é o problema e a forma de o tratar é que pode — ou não — demonstrar seriedade ao responder se, aqui (no confronte delação premiada — princípio da confiança), vale a pena ceder.
Portanto, antes de tudo, é preciso mudar o sistema. Em segundo lugar — e sem opção, diante da Constituição — é induvidosa a inconstitucionalidade da delação premiada. E assim o é porque há um ferimento inadmissível à regra do devido processo legal. Há, nas modalidades praticadas, pena sem processo, de todo inadmissível. Basta ver que para se possa homologar o acordo é preciso que haja processo (só dele pode advir pena), o que só se admite depois de oportunizado o contraditório. O processo, porém, como se sabe, é justamente aquilo em que (no iter de formação de um ato, como queria Fazzalari), como procedimento, recebe efetivo contraditório. Na delação premiada, sem embargo de tudo, não há processo porque não há contraditório; e aí também reside a inconstitucionalidade.
Um caso brasileiro bastante noticiado durante um ano inteiro tratava da delação premiada. Seu resultado foi que o grande delator não só está em liberdade como levou junto todos os seus afilhados e, quiçá mais grave, os clientes que seu advogado conseguiu angariar. Não parece se terem dado bem o MP e o juiz. Clientes foram assediados, em troca de isenção. Muitos, com glamour, ganharam seus minutos nos meios de comunicação. O que se obteve, ao fim e ao cabo, foi uma “meia justiça”, já que se deixou fora quem se quis como, por exemplo, a irmã do delator. O MP e a Magistratura, tudo indica, fizeram um grande serviço para a tal senhora, afastando a concorrência. Condenados — isso sim — muitos pequeninos (como sempre), com duvidosa participação se visto o caso penal desde o ponto estritamente legal. Era preciso, porém, apresentar os “culpados” e, quiçá (embora fosse ingênuo), dar uma satisfação à sociedade, fazendo-a crer se ter, pela genialidade das investigações e dos acordos, os “causadores da peste”, tudo fundado na palavra fidedigna de Guglielmo Piazza, tal e qual no famoso processo da Peste milanesa, conforme descrito de forma magistral por Pietro Verri. Trata-se, por evidente, de uma hipótese imaginária, mas que pode acontecer a qualquer momento, por força da crença na mera palavra; e no esquecimento do primado das hipóteses sobre os fatos. Muitos inocentes, contudo, podem pagar muito caro por não se crer que um dos lugares da palavra, do imaginário (como queria Lacan), é o falso.
O pior é que o resultado da delação premiada — e talvez a questão mais relevante — não tem sido questionado, o que significa ter a palavra do delator tomado o lugar da “verdade absoluta” (como seela pudesse existir), inquestionável. Aqui reside o perigo maior. Por elementar, apalavra assim disposta não só cobra confirmação precisa e indiscutível como, por outro lado, deve ser sempre tomada, na partida, como falsa, até porque, em tais hipóteses, vem do “grande bandido”. Trata-se, portanto, de meia verdade e, assim, de uma não-verdade, ou seja, uma inverdade, pelo menos a ponto de não enganar quem tem os pés no chão; e cabeça da Constituição.
Não pode valer, por primário, o discurso do “Pelo menos pegamos alguns”. Esses alguns (dentre os quais inocentes) não cabem na estrutura democrática!
Nota
* Este texto é a transcrição de parte da intervenção do autor no colóquio promovido pelo IBCCRIM, em São Paulo, em 24.11.05. Para um estudo mais aprofundado, vide o artigo, escrito em parceria com Edward Rocha de Carvalho, “Acordos de Delação Premiada e o Conteúdo Ético Mínimo do Estado”, a ser publicado no livro em homenagem a Cezar Roberto Bitencourt, org. Andrei Zenkner Schmidt, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro.