Um novo espaço de análise, reflexão e pluralidade no
debate público sobre o sistema de justiça criminal





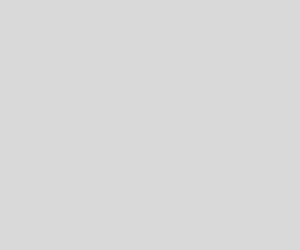

O brutal espancamento e a morte do cão comunitário “Orelha”, ocorridos em Florianópolis e atribuídos a adolescentes, provocaram ampla comoção social e reacenderam debates jurídicos sobre a adequação da resposta penal aos maus-tratos contra animais. Mais do que um incidente isolado de crueldade intrínseca, o Caso Orelha evidenciou lacunas na proteção jurídico-penal dos seres não humanos e desafia o Direito a repensar seus fundamentos antropocêntricos. Tradicionalmente, o senso comum jurídico tende a encarar crimes contra animais como de menor gravidade, tratando-os muitas vezes como meros delitos contra a propriedade ou ofensas periféricas ao meio ambiente (Favre, 2017). Entretanto, sob a óptica da Criminologia Verde, tais condutas adquirem nova centralidade, inserindo-se numa visão ampliada de vitimologia que inclui não apenas vítimas humanas, mas também animais e ecossistemas inteiros (Brisman; South; White, 2017).
Desde seu surgimento, a criminologia voltou-se quase exclusivamente ao estudo de comportamentos humanos desviantes que vitimizam outros humanos. Nas origens da disciplina, o foco recaiu sobre os delitos convencionais nas cidades, os “crimes de rua”, refletindo uma visão antropocêntrica e urbanocêntrica da questão criminal. Foi somente no século XX que esse horizonte se alargou: em 1939, Edwin Sutherland rompeu paradigmas ao introduzir os “crimes do colarinho branco”, revelando que também poderosos agentes corporativos podiam ser criminosos e vítimas eram difusas. Essa expansão conceitual preparou o terreno para ondas posteriores de renovação criminológica.
A partir da década de 1990, emergiu a Criminologia Verde, termo cunhado por Michael J. Lynch (1990) para designar uma perspectiva crítica voltada aos crimes e danos contra o meio ambiente, os animais e a vida no planeta. Diferentemente da criminologia convencional, calcada apenas em violações formais da lei, a criminologia verde propõe estudar também condutas socialmente danosas não tipificadas, rompendo com a dependência do legalismo estrito. Trata-se de reconhecer que agressões ecológicas muitas vezes não são enquadradas como crime devido a lacunas legislativas ou tolerância cultural, mas nem por isso deixam de representar graves ameaças à vida humana e não humana (White, 2018).
Essa mudança de paradigma exige superar o antropocentrismo jurídico, isto é, a ideia de que apenas o ser humano pode ser sujeito de direito e vítima digna de consideração. No plano filosófico, o especismo, conceito formulado pelo psicólogo Richard Ryder em 1970 e popularizado por Peter Singer (1975), denuncia a discriminação baseada na espécie, pela qual vidas não humanas são desvalorizadas e objetificadas em prol dos interesses humanos. Na esfera criminológica, práticas especistas manifestam-se tanto na seletividade penal quanto na indiferença política frente à exploração animal (espetáculos, pecuária industrial, experimentação científica etc.), algumas condenadas socialmente enquanto outras são amplamente aceitas.
A criminologia verde procura justamente romper com o imaginário de que animais são objetos sem valor intrínseco, afirmando que os animais não humanos devem ser reconhecidos como portadores de interesses e vulnerabilidades. Conforme salienta Beirne (1999), urge desenvolver uma criminologia “não especista” que incorpore o abuso de animais como objeto legítimo de estudo e intervenção, equiparando-o em importância aos delitos contra vítimas humanas. Essa perspectiva converge com a crítica estrutural de Ruggiero (2013), para quem os crimes ecológicos e os danos ambientais conectam-se a dinâmicas econômicas predatórias e estruturas de poder que transformam a natureza em recurso sacrificável. E alinha-se ainda à visão de Zaffaroni (2017), para quem a tradição jurídica ocidental construiu uma divisão rígida entre o homem e a natureza, relegando animais e ecossistemas à categoria de “objetos”, mas tal dicotomia mostra-se insustentável diante da atual crise ecológica global. É necessário, argumenta o jurista argentino, avançar para um direito pós-antropocêntrico, reconhecendo a Pachamama (Mãe Terra) e os animais como sujeitos de proteção, sob pena de seguirmos rumo ao ecocídio.
Dentro desse novo paradigma, consolida-se a ideia de uma “vitimologia verde”, ou vitimologia ampliada, que expande o conceito de vítima para além do ser humano. Se a vitimologia clássica, desde Mendelsohn e Von Henting, preocupou-se em estudar o papel e a situação da vítima humana no crime, a vitimologia verde postula que animais, florestas, oceanos e até gerações futuras podem também ser vítimas de atividades danosas. Esse alargamento do olhar vitimológico responde à realidade de crimes ambientais e contra animais em que os prejudicados não se restringem aos indivíduos humanos diretamente afetados, mas abarcam comunidades inteiras, espécies indefesas e o equilíbrio ecológico.
Um exemplo eloquente é o Caso Samarco. O rompimento da barragem de rejeitos liberou um mar de lama tóxica que causou dezenas de mortes humanas, destruiu o Rio Doce e ecossistemas ao longo de centenas de quilômetros, além de dizimar incontáveis animais silvestres e domésticos. Do ponto de vista jurídico-penal estrito, as vítimas “oficiais” limitam-se aos humanos mortos ou lesionados e ao patrimônio impactado; todavia, à luz da criminologia verde, identifica-se uma vasta vitimização ambiental invisibilizada, englobando a perda irreparável da biodiversidade e os danos sociais difusos sofridos por comunidades ribeirinhas (Colognese, 2018). Estudos empíricos sobre Mariana revelam como esses danos sociais de massa tendem a ser invisibilizados nos discursos jurídico-criminais tradicionais, devido a fatores políticos e econômicos que desvalorizam as vítimas coletivas e não humanas. A vitimologia verde busca exatamente dar voz a essas vítimas esquecidas, indo ao “testemunho da natureza agredida” e questionando a efetividade de um sistema penal que raramente repara ou previne tais devastações.
No que tange especificamente aos animais não humanos enquanto vítimas, há avanços teóricos importantes. Rob White (2018) propõe integrar os animais no escopo da vitimologia, argumentando que seres sencientes sujeitos a sofrimento podem e devem ser concebidos como vítimas em sentido pleno, merecendo reparação e proteção jurídica. Trata-se de reconhecer a dignidade animal — conceito já presente na legislação de alguns países — e entender que o sofrimento imposto a um animal é relevante por si mesmo, independentemente de eventuais reflexos sobre interesses humanos. Esse enfoque é corroborado pelo progresso científico quanto à senciência animal.
Em 2012, a Declaração de Cambridge sobre Consciência confirmou que mamíferos, aves e até polvos possuem consciência e experienciam emoções, o que ratifica a urgência de considerá-los eticamente. Assim, vitimologia ampliada implica deslocar o antropocentrismo e admitir que a vaca no abatedouro, o cão espancado, o rio poluído ou a floresta incendiada são, em essência, vítimas de ações humanas, ainda que o ordenamento jurídico nem sempre lhes atribua formalmente esse status (Favre, 2017).
É importante frisar que essa ampliação não busca equiparar simploriamente todas as formas de vida ou abolir as diferenciações normativas, mas sim incluir novos sujeitos no círculo de preocupação da justiça. Ela também permite iluminar conexões ignoradas: por exemplo, pesquisas criminológicas demonstram que os autores de abuso animal frequentemente possuem histórico de violência interpessoal, compondo o chamado link entre crueldade contra animais e violência doméstica ou serial (Palais, 2021). Ou seja, cuidar da vítima animal pode prevenir novas vítimas humanas, uma constatação instrumental que vem sendo usada para sensibilizar autoridades.
Foi justamente com base nesse nexo que, em 2016, o FBI passou a categorizar os crimes de crueldade contra animais como ofensa grave em seu sistema nacional de estatísticas criminais (NIBRS), equiparando-os a categorias como homicídio e estupro. Essa mudança administrativa, alavancada por pressões de associações civis, visou melhorar o entendimento sobre quem comete tais crimes e prevenir escaladas violentas futuras (Palais, 2021). Trata-se de um reconhecimento tácito, no âmbito da polícia e da política criminal, de que animais são vítimas cujo sofrimento importa e gera dados relevantes – algo impensável algumas décadas atrás.
A realidade brasileira em matéria de proteção penal aos animais reflete esse atraso histórico e especismo institucionalizados, embora apresente sinais recentes de evolução. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225, §1º, inciso VII, proibiu expressamente práticas que submetam animais à crueldade, inaugurando um importante marco normativo na tutela ambiental e faunística. Na prática, porém, durante muitos anos os delitos contra animais foram tratados como infrações de menor potencial ofensivo, inseridos na Lei de Crimes Ambientais, com penas ínfimas de detenção de três meses a um ano, como é o caso da figura prevista no artigo 32, da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sanção claramente desproporcional à gravidade dos atos e incapaz de dissuadir agressores contumazes. A resposta penal brasileira tem sido inconsistente e insuficiente para coibir, por exemplo, o tráfico de animais silvestres, atividade lucrativa e extremamente lesiva que continua a florescer à sombra da impunidade. A legislação ambiental carece de reformas que elevem o patamar sancionatório e a efetividade da tutela, de modo a resguardar a dignidade animal conforme exige a Constituição.
De fato, somente em 2020, em reação a casos emblemáticos de crueldade, como o do cão “Sansão” que teve as patas decepadas, o Brasil editou a Lei Federal 14.064, de 29 de setembro de 2020, aumentando a pena para maus-tratos contra cães e gatos para 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda. Essa alteração pontual, embora bem-vinda e alinhada a demandas sociais, ainda deixa desprotegidas outras espécies e não resolve entraves aplicativos, como a frequente desclassificação desses crimes ou a substituição da pena por medidas brandas.
Contudo, não basta simplesmente clamar por punições mais severas. Alguns países já adotam abordagens terapêuticas nessa seara: por exemplo, nos EUA existe o programa AniCare de intervenção com autores de maus-tratos, e cursos de empatia com animais são impostos a jovens infratores para conscientizá-los. Outro modelo promissor é o da Justiça Restaurativa “interestelar”, termo sugerido por Varona Martínez (2025), que busca incluir as vítimas animais ou ambientais simbolicamente nos círculos restaurativos, fomentando nos ofensores a compreensão do mal causado e o compromisso de repará-lo. Ainda que o animal em si não possa ser “restaurado”, esse processo teria potencial pedagógico mais transformador do que a mera punição. É uma forma de “justiça interespécies”, na expressão de Varona Martínez (2025), que demanda repensar valores e terminologias para abarcar os danos contra seres não humanos na dinâmica restaurativa.
Paralelamente a essas medidas de justiça restaurativa, importa analisar soluções jurídicas adotadas em outros países que refletem uma valorização maior dos animais na ordem legal. Uma tendência observável é a criação de mecanismos para dar representação legal aos interesses dos animais no processo. Nos Estados Unidos, alguns estados inovaram ao permitir que promotores ou advogados atuem como guardians ad litem dos animais em casos de maus-tratos. A Lei Desmond em Connecticut (2016) criou essa figura para auxiliar juízes fornecendo informações sobre a vítima animal e defendendo seu bem-estar durante o trâmite processual.
No Brasil, passos tímidos vêm sendo dados nesse sentido no âmbito civil. O Projeto de Lei 27/2018 da Câmara, em trâmite no Congresso Nacional, pretende reconhecer os animais como “seres sencientes” e sujeitos de direitos despersonificados, alterando sua natureza jurídica de meros bens móveis. Ainda que focada no Direito Civil, tal mudança teria reflexos simbólicos e práticos também no campo penal, reforçando a ideia de que maus-tratos não são ofensa a um objeto, mas sim violência contra um sujeito vulnerável.
Contudo, para além de mudanças na lei, impõe-se uma transformação cultural no sistema de justiça. Marta Nussbaum (2022) adverte que apenas uma revolução no modo como concebemos a nossa responsabilidade coletiva para com os animais permitirá um salto civilizatório genuíno, e essa revolução passa tanto pela educação quanto pela atuação de operadores do direito imbuídos de sensibilidade ecológica. Em última instância, ampliar o círculo da empatia e da tutela penal para abarcar animais e ecossistemas não significa humanizar a natureza de forma ingênua, mas sim humanizar o próprio Direito, torná-lo mais coerente com valores de compaixão, sustentabilidade e respeito à vida em todas as suas formas.
A criminologia brasileira, influenciada por seu rico legado crítico, tem condições de assumir papel protagonista nessa guinada paradigmática: denunciando as estruturas de poder que perpetuam a exploração predatória, pesquisando os fenômenos de vitimização ambiental invisível e inspirando políticas públicas integradas de prevenção e justiça restaurativa socioambiental. Que o sofrimento de um cão chamado Orelha, assim como de tantos “Orelinhas” anônimos e de tantos rios silenciosos, não seja em vão, mas sirva de impulso para aprimorarmos nosso ordenamento jurídico e nossa postura ética enquanto sociedade. Somente com um olhar ampliado, ecologicamente orientado, o Direito Penal poderá cumprir sua função de tutela nos novos desafios do século XXI, assegurando um mundo mais justo não apenas para nós, humanos, mas para todos os habitantes sencientes do planeta.
BEIRNE, Piers. For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study. Criminology, v. 37, n. 1, p. 117-148, 1999. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1999.tb00481.x
BRISMAN, Avi; SOUTH, Nigel; WHITE, Rob (org.). Green criminology: an introduction to the study of environmental harm. Abingdon: Routledge, 2017.
COLOGNESE, Mariângela Matarazzo Fanfa. O caso Samarco: vitimização ambiental e dano social corporativo no cenário de Mariana – uma investigação empírica a partir da perspectiva das vítimas. Revista Eletrônica Direito e Política, v. 13, n. 2, p. 956-988, 2018. Disponível em: https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/view/13366/0. Acesso em: 11 fev. 2026.
FAVRE, David. Animals as living property. In: The Oxford Handbook of Animal Studies. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 65-80.
NUSSBAUM, Martha C. Justice for animals: our collective responsibility. New York: Simon & Schuster, 2022.
PALAIS, Julie M. Using the National Incident-Based Reporting System (NIBRS) to study animal cruelty: preliminary results (2016–2019). Social Sciences, v. 10, n. 10, art. 378, 2021. https://doi.org/10.3390/socsci10100378
RUGGIERO, Vincenzo. The environment and the crimes of the economy. In: ROTHE, Dawn; FRIEDRICHS, David (org.). Green Criminology. New York: Routledge, 2013.
SINGER, Peter. Animal Liberation. New York: Random House, 1975.
VARONA MARTÍNEZ, Gema. Animalising restorative justice? At the crossroads of interspecies justice and non-violence. Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa, v.3, n.2, 2025. https://doi.org/10.58725/rivjr.v3i2.120
WHITE, Rob. Green victimology and non-human victims. International Review of Victimology, v. 24, n. 2, p. 239-255, 2018. https://doi.org/10.1177/0269758017745615
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A Pachamama e o ser humano: direitos da natureza e ecocídio. Florianópolis: Editora da UFSC, 2017.
Como citar: SIENA, David Pimentel Barbosa de. “Caso Orelha” e o direito penal antropocêntrico: por que os animais precisam entrar no conceito de vítima?. Jornal de Ciências Criminais, 11 fev. 2026. Disponível em: https://jcc.ibccrim.org.br/artigos/caso-orelha-e-o-direito-penal-antropocentrico-por-que-os-animais-precisam-entrar-no-conceito-de-vitima/. Acesso em: 11 fev. 2026.