Um novo espaço de análise, reflexão e pluralidade no
debate público sobre o sistema de justiça criminal





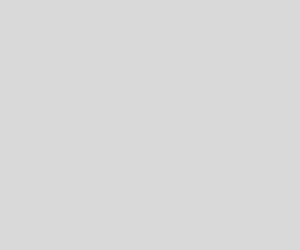
Recente estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), no qual foram entrevistadas 25.000 mulheres em 10 países, entre os quais o Brasil, constatou que entre 25% e 50% das mulheres entrevistadas foram vítimas de violência doméstica moderada ou severa no último ano. Com variações de país para país, entre 20% e 60% das mulheres disseram nunca haver denunciado esses fatos. Os danos produzidos pela violência no ambiente doméstico vão do medo e da depressão à dor crônica e à perda da autoestima.
Os estudos mais recentes demonstram ainda uma forte correlação entre pauperização e violência doméstica, o que coloca a América Latina em situação ainda mais grave para o enfrentamento das tensões que brotam no contexto familiar e são equacionadas pelo recurso à violência. Mais do que a pobreza, é o impacto de processos de mobilidade social negativa, alcoolismo e drogadição, que leva muitas vezes o cônjuge masculino a uma dinâmica destrutiva para si próprio e seu entorno familiar.
Essa situação, para a qual contribuem aspectos relacionados à cultura, à situação econômica e à falta de mecanismos institucionais de proteção à mulher, começou a ser denunciada no Brasil nas últimas décadas pelos movimentos de mulheres. Como efeito dessa mobilização, o reconhecimento da violência contra a mulher como sendo um problema público vem ocorrendo na sociedade brasileira. As situações de violência contra a mulher, muitas vezes naturalizadas e minimizadas, foram visibilizadas e, através dos Juizados Especiais Criminais (JECrim), se procurou garantir o acesso ao Poder Judiciário e o fim da impunidade para delitos como ameaças e lesões corporais, que antes dependiam do inquérito policial e muitas vezes não passavam do registro da ocorrência nas delegacias de polícia.
No entanto, as dificuldades de implantação de um novo modelo para lidar com conflitos sociais levaram diversos setores do campo jurídico e do movimento de mulheres a adotar um discurso de confrontação e crítica aos Juizados, especialmente direcionado contra a chamada banalização da violência que por via deles estaria ocorrendo. A crítica foi sempre centrada na prática de alguns promotores e juízes de adotar, em sede de transação penal, a chamada “lei do menor esforço”, ou seja, a aplicação de uma medida alternativa correspondente ao pagamento de uma cesta básica pelo acusado, ao invés de investir na mediação e na aplicação de medida mais adequada para o equacionamento do problema sem o recurso à punição.
Como já apontado em outro lugar (Azevedo, 2000, 2002, 2005), grande parte dos problemas enfrentados nos JECrim devem-se à falta de preparo e engajamento de muitos operadores do Direito para as novas funções que deles são exigidas. É o caso, por exemplo, da atuação do juiz como conciliador, nem sempre assumida de fato, ou da necessidade do promotor, antes do oferecimento da proposta de transação, avaliar da possibilidade de arquivamento pela falta dos requisitos mínimos necessários ao prosseguimento da ação penal.
O processamento dos casos de violência contra a mulher pelos Juizados Especiais Criminais gerou opiniões contraditórias não apenas no interior do movimento feminista, mas também entre os (as) pesquisadores (as). Alguns perceberam os JECrim como benéficos à luta das mulheres por dar visibilidade ao problema da violência de gênero, que antes não chegava ao âmbito judicial. Outros entenderam que os Juizados ampliaram a rede punitiva estatal, judicializando condutas que antes não chegavam até o Judiciário, mas em muito pouco contribuíram para a diminuição do problema da violência conjugal, pela impunidade decorrente da banalização da alternativa da cesta básica.
Contrariando os estudos que concluíram que a Lei nº 9.099/95 estaria desfavorecendo as mulheres no acesso à Justiça, a pesquisa realizada por Wânia Izumino (2004) nas Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, no período de 1996 a 1999, revelou um aumento expressivo no número de registros policiais de lesões corporais e ameaças, permitindo concluir que Delegacias da Mulher e Juizados Especiais Criminais representaram importantes espaços de referência para as mulheres em situação de violência.
Para Izumino (2004), a decisão de recorrer à polícia e a capacidade legal de intervenção no processo judicial, conquistada pelas vítimas sob a nova legislação, revelaram um modo de exercício de poder pelas mulheres, em um modelo alternativo à justiça tradicional que poderia responder às expectativas das mulheres vítimas de violência e explicitar outro tipo de vínculo entre gênero, conflito e Justiça. Para Izumino, a busca pela denúncia nas delegacias e pelo apoio do Poder Judiciário é recurso encontrado pelas mulheres para fazer cessar períodos de agressão contínua. A condenação criminal dos companheiros, na grande maioria dos casos, não é a intenção da vítima da agressão. Izumino trata a possibilidade de manutenção ou retirada da representação pela vítima, viabilizada pela Lei nº 9.099/95, como um mecanismo de empoderamento das mulheres, pois estas deixariam de ser vítimas passivas para atuarem de forma ativa, reagindo à situação de violência que enfrentam. A capacidade de dispor da representação revela formas através das quais as mulheres podem exercer poder na relação com os companheiros. Entretanto, a autora chama a atenção para o fato de que o problema não está na possibilidade da vítima se manifestar, retirando a representação, mas na ausência de mecanismos que permitam que ela seja informada de seus direitos e das consequências de sua renúncia à representação.
Em outra pesquisa, realizada por Carmen Campos no início da década (2003), identificou-se que 70% dos casos julgados nos JECrim, em Porto Alegre, envolviam violência doméstica cometida pelo homem contra a mulher, demonstrando que os JECrim, apesar de não possuírem competência exclusiva para tanto, estariam majoritariamente processando casos de violência doméstica. Em sentido contrário à conclusão de Wânia, Carmen destaca que a consequência dessa fórmula que processa a violência doméstica sem incorporar um “paradigma de gênero” foi a banalização da violência doméstica, com a não participação da vítima, as renúncias massivas, não havendo solução satisfatória para o conflito.
Para Campos, com o advento dos JECrim, a lógica de decidir priorizando a preservação do casamento e das expectativas sociais permaneceu inalterada. Contudo, passou a ser operada não pela absolvição, mas pelo arquivamento massivo dos processos, através da renúncia das vítimas. O incentivo à renúncia ao direito de representação auxiliaria a banalizar a violência conjugal e a reprivatizar o conflito, devolvendo o poder ao agressor.
Mesmo adotando uma perspectiva crítica aos mecanismos introduzidos pela Lei nº 9.099/95, ao apontar o que seria uma legislação adequada sobre a violência conjugal, a autora reconhece que deveria ser pautada segundo a perspectiva da adoção de medidas que garantam a abstenção do comportamento violento, e não necessariamente a punição do agressor. Para Campos, ao que tudo indica, essa nova legislação há de ser pensada longe do Direito Penal, na perspectiva do Direito Civil. Impossível pensar-se em retrocesso no campo penal, buscando agravamento das penas. Ao contrário, cada vez mais se deve pensar na mínima utilização do Direito Penal, não só nos delitos em que as mulheres são consideradas vítimas. A utilização do Direito Penal reforça a ideia do polo repressivo em detrimento de outras formas mais positivas de atuação do Direito, que emergem a partir do Direito Constitucional. A falência de todo o sistema repressivo está a demandar novas soluções para a consolidação dos direitos humanos e dos laços de solidariedade social (Campos, 2003).
Em sentido contrário às conclusões acima apontadas, o legislador brasileiro, dessa vez incentivado por uma ampla mobilização, capitaneada pela Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, mais uma vez produziu uma verdadeira “revolução” no tratamento da matéria, abandonando o que há uma década era visto como um novo paradigma, pautado pela mediação e pelo consenso, e aderindo à sempre enganosa, dolorosa e danosa intervenção do sistema penal (Karam, 2006).
Em relação às lesões corporais leves, a referida lei instituiu um aumento da pena máxima em abstrato para o crime de lesão corporal leve, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, que passou a ser punido com três meses a três anos de detenção. Com essa medida, retirou dos JECrim a competência para o processamento deste delito, e previu a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
Como esses Juizados ainda não foram criados, e nem o serão na grande maioria das comarcas, a competência para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher é dada às Varas Criminais, tanto no âmbito criminal como no âmbito cível. Ou seja, retira-se o caso do JECrim, onde era muitas vezes realizada a mediação e homologado pelo juiz o compromisso de respeito mútuo, e encaminha-se para uma Vara frequentemente sobrecarregada com homicídios, roubos, estelionatos e delitos sexuais graves, e exige-se ainda que sejam também resolvidas as questões envolvendo o Direito de Família.
Não satisfeitos com o aumento da pena, optou-se ainda por prever expressamente, no art. 41, que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099/95. Agora, caso o juiz entenda necessário o comparecimento do agressor em programa de recuperação e reeducação (sic), a medida é tomada de forma impositiva, e não mais como parte de uma dinâmica de mediação, ou mesmo de transação penal. Pode-se imaginar a eficácia de medida como essa, sem contar com a concordância voluntária do agressor…
Absolutamente distante de qualquer perspectiva minimalista do Direito Penal, agravando penas e autorizando a utilização de uma medida excepcional como a prisão preventiva, o que se percebe é que a Lei nº 11.340/2006 também não recepcionou o paradigma de gênero, pois excluiu a participação da mulher na discussão do problema, o que inviabiliza uma solução satisfatória para o conflito. Isso fica claro com a regra do art. 16, que estabelece que a renúncia à representação só poderá ocorrer perante o juiz, em audiência especialmente designada para este fim.
Para além destas questões, por si só relevantes, a referida lei, da qual se espera que produza a redução da violência de gênero no país, também não incorporou o debate mais recente sobre os mecanismos necessários para o aumento da eficiência da administração da justiça penal. A exclusão do rito da Lei nº 9.099/95, expressa no art. 41 da Lei Maria da Penha, para o processamento de casos de violência doméstica, acaba com a possibilidade de conciliação, que se constituía em uma oportunidade das partes discutirem o conflito e serem informadas sobre seus direitos e as consequências de seus atos. Além disso, reenvia estes delitos para a Polícia Civil, pois agora dependem novamente da produção do inquérito policial. Embora a lei tenha sido bastante minuciosa ao orientar a atividade policial, são conhecidas de todos as dificuldades existentes, tanto estruturais quanto culturais, para que estes delitos venham a receber por parte da Polícia o tratamento adequado, o que certamente vai implicar uma redução do acesso ao Poder Judiciário.
As medidas não penais de proteção à mulher em situação de violência, previstas nos arts. 9º, 22 e 23 da Lei Maria da Penha, mostram-se providências muito mais sensatas para fazer cessar as agressões e, ao mesmo tempo, menos estigmatizantes para o agressor. Entretanto, inseridas em um contexto criminalizante, pode-se imaginar que logo estaremos assistindo à colonização das medidas protetivas pelas iniciativas tendentes à punição (mesmo antes da condenação) dos supostos agressores, nos casos que conseguirem ultrapassar a barreira do inquérito e alcançarem uma audiência judicial, quem sabe quanto tempo depois do momento da agressão.
O conflito social que está por trás da violência doméstica não pode ser tratado pura e simplesmente como matéria criminal. O retorno do rito ordinário do processo criminal para apuração dos casos de violência doméstica não leva em consideração a relação íntima existente entre vítima e acusado, não sopesa a pretensão da vítima nem mesmo seus sentimentos e necessidades. Conforme a observação de Maria Filomena Gregori (1993), as mulheres atendidas não buscam, necessariamente, a separação de seus parceiros. A autora entende que não há uma simples dominação das mulheres pelos homens, estas não são meras vítimas de seus companheiros, não existe, numa relação, um estabelecimento dualista e fixo dos papéis de gênero. Embora a dualidade vítima-agressor facilite a denúncia da violência, Gregori destaca que deve haver limites para essa visão jurídica dualista: “a construção de dualidades – como ‘macho’ culpado e mulher ‘vítima’ – para facilitar a denúncia e indignação, deixando de lado o fato de que os relacionamentos conjugais são de parceria e que a violência pode ser também uma forma de comunicação, ainda que perversa, entre parceiro” (1993, p. 134).
Certamente o mais adequado seria lidar com esse tipo de conflito fora do sistema penal, radicalizando a aplicação dos mecanismos de mediação, realizada por pessoas devidamente treinadas e acompanhadas de profissionais do Direito, Psicologia e Assistência Social. Os Juizados Especiais Criminais abriram espaço para experiências bem-sucedidas nesse âmbito, como as várias alternativas de encaminhamento do caso (compromisso de respeito mútuo, encaminhamento para grupo de conscientização de homens agressores etc.) dão conta. No entanto, o equívoco da banalização da cesta básica deflagrou a reação que agora assistimos. Ao invés de avançar e desenvolver mecanismos alternativos para a administração de conflitos, vamos mais uma vez recorrer ao mito da tutela penal, neste caso ela própria uma manifestação da mesma cultura que se pretende combater.
AZEVEDO, Rodrigo G. “Informalização da Justiça e Controle Social”, São Paulo, IBCCRIM, 2000.
AZEVEDO, Rodrigo G. “Conciliar ou Punir? – Dilemas do Controle Penal na Época Contemporânea”, in WUNDERLICH, Alexandre (org.), Diálogos Sobre a Justiça Dialogal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
AZEVEDO, Rodrigo G. “O Paradigma Emergente em seu Labirinto – Notas para o aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Criminais”, in WUNDERLICH, Alexandre (org), Novos Diálogos sobre os Juizados Especiais Criminais, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2005.
CAMPOS, Carmen Hein de. “Juizados Especiais Criminais e seu déficit teórico”, Rev. Estudos Feministas, vol. 11, nº 1, Florianópolis, jan./jun. 2003.
GREGORI, Maria Filomena. Cenas e Queixas: Um Estudo Sobre Mulheres, Relações Violentas e a Prática Feminista, São Paulo: Paz e Terra, 1992.
IZUMINO, Wania. “Delegacias de Defesa da Mulher e Juizados Especiais Criminais: mulheres, violência e acesso à justiça”, XXVIII Encontro da Associação Nacional de Pós Graduação em Ciências Sociais – ANPOCS, Caxambu, Minas Gerais, 26 a 28 de outubro de 2004. CD-ROM.
KARAM, Maria Lúcia. “Violência de Gênero: O Paradoxal Entusiasmo pelo Rigor Penal”, Boletim do IBCCRIM, ano 14, nº 168, novembro de 2006, pp. 6-7.
SOUZA, João Paulo de Aguiar Sampaio e FONSECA, Tiago Abud da. “A Aplicação da Lei nº 9.099/95 nos casos de violência doméstica contra a mulher, Boletim do IBCCRIM, ano 14, nº 168, novembro de 2006, pp. 4-5.
Texto originalmente publicado no Boletim IBCCRIM.
Como citar: CELMER, Elisa Girotti; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli. Violência de gênero, produção legislativa e discurso punitivo: uma análise da lei n° 11. 340/2006. Boletim IBCCRIM, v. 14, n. 170, p. 12-13, 2007. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/issue/view/227. Acesso em: 9 dez. 2025.
Esta obra é disponibilizada sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), permitindo uso, compartilhamento, adaptação e finalidade comercial, desde que seja dado crédito adequado ao autor.
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil